[This is a Portuguese translation of Part 4 of the Theist vs. Atheist debate series, originally published in English at EveryJoe.com.]
A religião é imprescindível para a moralidade pessoal?
Por John C. Wright
Tradução de Matheus Pacini
Revisão de Mateus Bernardino
Até o momento neste debate, temos o seguinte: o Sr. Hicks e eu concordamos com um debate dividido em oito partes, cujo tópico é teísmo versus ateísmo. O assunto dessa semana é se a religião é imprescindível para a ética pessoal.
Antes de me dedicar a essa questão, façamos um pequeno resumo do que já foi discutido.
A primeira questão era se valia a pena discutir religião. O Sr. Hicks e eu concordamos que todas as pessoas deveriam pensar sobre seus próprios posicionamentos, devendo aprender sobre suas eventuais fraquezas.
Além disso, eu disse que a razão poderia atenuar objeções falaciosas à fé em Deus, de maneira a remover um obstáculo intelectual ao amor, embora obviamente não fosse suficiente para persuadir alguém a amá-Lo. Ninguém é convencido a apaixonar-se. Eu também mencionei que o raciocínio dedutivo era suficiente para provar o monoteísmo de forma abstrata, mas era insuficiente para provar características específicas de uma religião revelada (tais como o Trinitarismo, Cristologia e Soterologia), lugar onde o raciocínio discursivo era alternativamente necessário. A distinção era entre dois tipos de raciocínio, e não entre razão e autoengano proposital.
Sr. Hicks esforçou-se para citar erroneamente tanto a mim como a Tertuliano, insinuando que afirmávamos que algum tipo de bizarra operação mental de autoengano proposital era necessário para a fé em Deus, e que isto era a própria definição de fé. Pelo contrário, “fé” é uma palavra que significa meramente confiança em uma autoridade ou confiança no depoimento de uma testemunha, e a manutenção consistente dessa decisão mesmo quando o desespero, mas não a evidência, tentar induzir ao contrário.
Isto não é mais um ato de autoengano proposital do que quando o Sr. Hicks fala a sua data de aniversário. Neste caso, não é irracional confiar no testemunho de sua própria mãe.
Quando apontei que não tinha dito que tal tipo de autoengano proposital era parte da religião cristã, ele simples e teimosamente afirmou que eu o tinha feito, inventando citações conforme necessário. Ele usou deste estratagema de forma covarde e leviana, por diversas vezes, nunca respondendo o argumento que lhe fora efetivamente apresentado.
A segunda questão era se a existência de Deus era uma hipótese racional. Meu argumento foi que os argumentos contra e a favor eram muito mais discursivos do que analíticos.
Um argumento analítico é como o Teorema de Pitágoras, o qual deve ser verdadeiro, posto que os axiomas da geometria euclidiana são considerados verdadeiros. Um argumento discursivo é como a teoria de que o sol nascerá no leste amanhã. Embora seja possível — no sentido de não representar uma contradição em termos — que o sol possa nascer no oeste amanhã, a experiência e a astronomia moderna demandam alguma explanação implausível para justificar uma teoria sobre o futuro nascer do sol no oeste. Quanto mais implausível a explanação necessária para dar suporte a uma teoria, ou quanto menos ela explique, ou quanto mais profundas possam ser as objeções levantadas contra ela, mais merecedora ela será de ceticismo.
Isto é chamado de “princípio da parcimônia” ou “navalha de Occam”. O raciocínio discursivo não deduz convicções de certezas absolutas, mas ele deve encontrar a explanação mais robusta, ainda que parcimoniosa. As teorias atuais da história, da astronomia ou da evolução não são dependentes de certezas deduzidas de certezas absolutas, mas de julgamentos discursivos em que a teoria esteja o quanto menos aberta possível a sérias objeções. O darwinismo não é incontestável, mas é menos aberto à objeção que o lamarckianismo.
Daí para responder a questão que foi perguntada, a saber, se o teísmo era uma hipótese racional, meu argumento listou brevemente três objeções sérias ao teísmo, e dez objeções sérias ao ateísmo.
O Sr. Hicks alega que os argumentos não provam irrefutavelmente a existência de Deus com um argumento analítico, deste modo mostrando que ele nunca entendeu verdadeiramente a questão que estávamos discutindo.
O Sr. Hicks decidiu confundir-me desta vez ao fingir que não tinha dito algo que tinha dito, a saber, o simples fingir não ter que responder qualquer um dos meus argumentos. Ele então me repreende severamente por falhar em ser intelectualmente rigoroso. Eu confio que o leitor note a ironia.
Instead he invents a strawman version of the first of my ten, the Argument from Design.
Ao invés disso, ele utiliza uma “falácia do espantalho” na primeira das minhas dez objeções, o argumento do design inteligente.
A sua “falácia do espantalho” é ainda mais fraca e fácil de ser desbancada que o argumento original. Eu confesso estar um pouco surpreso que seu próprio espantalho o esteja traindo.
O real argumento do design inteligente é se a intenção existe na natureza. Se você descobrir um relógio de pulso nas areias de Marte, é racional supor que existe um relojoeiro marciano, que projetou o instrumento com o objetivo de saber as horas. A ideia de que os componentes uniram-se por um processo involuntário e se tornaram o relógio, o qual acaba sendo miraculosamente sendo útil para a verificação das horas, é uma teoria fraca, pois é estapafúrdia. Efeitos intencionais não podem surgir de causas não intencionais.
Da mesma forma, se você vê um órgão, como a asa de um pássaro ou um globo ocular, é racional supor que esses órgãos foram projetados com seu propósito em mente, a saber, voo ou visão. Por isso que o argumento é que o design propositado de um instrumento pressupõe um designer, que tinha aquele propósito em mente. A natureza é não proposital porque a natureza é não deliberada. Daí que a evidência do design na natureza é evidência de um designer da natureza, o qual poderia somente ser sobrenatural.
Ao invés disso, o Sr. Hicks alega que o argumento diz respeito à complexidade. Ele alega que os teístas argumentam que a ordem não pode surgir da desordem sem um ordenador. E ao invés de discutir como é possível que a desordem faça surgir a ordem no universo (que incluí as ordens física, mental, espiritual, ética e estética), ele nos ludibria ao falar somente da evolução biológica, a qual não é, de forma alguma, um exemplo de ordem surgindo da desordem.
Qualquer filhote de uma espécie pode ter mais partes móveis que seus pais, se as pressões do seu ambiente favorecerem a multiplicidade de partes, ou pode ter menos, mas nenhuma delas é mais ordenada que a outra. Uma bicicleta tem mais partes móveis que um monociclo, mas não tem mais ordem.
O Sr. Hicks contesta que o número, poder e benevolência de ser(es) divino(s) ordenando o universo não é comprovado além de qualquer dúvida por esse argumento. Aliás, o argumento do design inteligente somente existe para provar a existência de um designer, e não para tratar de sua natureza. O Sr. Hicks parece não perceber que o politeísta (ou o panteísta) ainda é um teísta, e se o teísmo é verdadeiro, o ateísmo é falso.
A consideração final dirige-se à questão da regressão infinita. Ele alega que se assumirmos que o universo não tem o poder para se criar do nada, necessitando assim de um criador, nós podemos assumir, da mesma forma, que o criador do universo tampouco o tem. Consequentemente, o criador deve ter sido criado por um pai-criador, e este por um avô-criador, e assim por diante. Esse é um argumento infantil, ao qual toda a criança deveria saber responder.
Considere o exemplo de um vagão sendo puxado por outro vagão, o qual define sua velocidade. Uma linha de vagões não pode ser infinita, pois se o fosse, o trem não se moveria. O primeiro vagão do trem deve ser a locomotiva, algo que obtém sua velocidade dos motores, e não de outro vagão. É um “vagão” não puxado por outro vagão. Argumentar que esse primeiro “vagão” — que não é puxado por outro — deve ter um vagão que o puxe é mal interpretar o argumento. Isto não contradiz o argumento; simplesmente, ignora o ponto central.
Da mesma forma, se o modelo padrão da física estiver correto, então o Big Bang é um evento natural, embora não se possa afirmar que foi produto de causas naturais, isto é, causas históricas dentro do âmbito do tempo e do espaço, simplesmente porque o tempo e o espaço surgiram como consequência do Big Bang. Se assim for, qualquer que tenha sido o fato gerador do Big Bang, ele não estaria dentro do tempo, e não poderia ser uma causa histórica, tampouco uma causa natural. Outro tipo de causalidade é necessário, a qual pode somente ser sobrenatural.
Dado que não é uma causa histórica, deve ser uma causa final, isto é, um ato intencional que buscava um objetivo deliberado. E somente mentes podem ter intenções. Uma mente sobrenatural, uma capaz de criar o universo, é um Deus de algum tipo. No que tange ao número e natureza do Deus, outro argumento deve tratar disso.
Então, essa é a história até o momento, aliás, uma história triste para qualquer ateísta que desejava ver sua posição firmemente defendida.
A razão mais óbvia para acreditar em Deus é a simples observação da natureza ética do homem. Todos nós estamos cientes da autoridade da consciência que condena a injustiça quando fazemos o mal, ou falhamos em fazer o bem. Todos nós estamos cientes de que sabemos a diferença entre o certo e o errado, e que fazemos, falamos e pensamos bobagens, ou omitimos o que é certo com muita frequência.
Existem dois fatos evidentes que separam os homens de outras criaturas encontradas na Terra. Primeiro, toda a criança é ensinada a falar; contudo, ninguém ensina a criança a mentir.
Segundo, mesmo ao contemplar uma mentira simples — como quando você disse a seu chefe que estava doente, quando você queria, meramente, uma folga — uma justificativa aparece instantaneamente na ponta da língua, mesmo que você esteja sozinho. Contudo, é logicamente impossível existir uma exceção sem uma lei da qual um indivíduo procura ser eximido. A busca por justificativa que emerge instantaneamente é logicamente impossível exceto quando existe uma autoridade que, de outro modo, imporia uma condenação moralmente válida.
Todo o ser humano, em outras palavras, tem um vago senso de integridade e um vago desejo por ela, e todo o ser humano sabe que não é perfeito. Animais não demonstram tal comportamento. Não obstante, este é um fato realmente particular, e é o mistério central da existência humana.
Contudo, existem quatro explicações possíveis para isso: politeísmo, panteísmo, ateísmo ou monoteísmo.
O mal causado pelos deuses politeístas é testemunho suficiente de que eles não podem ser a fonte deste sentimento desinquietante que surge ao se violar leis éticas fundamentais do universo. Não é como se Júpiter pudesse criticar adúlteros ou parricidas, ou Odin condenar ladrões.
O panteísmo supõe que todos os seres compõem uma divindade abrangente, o que implica que todos os atos são, portanto, igualmente divinos, incluindo coisas que seriam doutra maneira consideradas pecados. Se o cosmos é Deus, igualmente divino em todas as suas partes, não existe forçosamente uma origem primitiva para esse sentimento de violação. Isto é uma ilusão que foi ao melhor sanada pelo Buda.
O ateísmo não pode supor que essas regras éticas do universo sejam soberanas, pois se elas fossem o produto da evolução biológica ou do condicionamento social, elas não teriam autoridade que um homem não pudesse simplesmente subverter. Se assim fosse, a aparência de uma autoridade soberana da consciência seria uma ilusão corretamente descartada, e o principal problema da ética humana, portanto, não seria como instigar os homens a viverem como ditado pela consciência, mas como eliminar a culpa advinda de suas violações da própria consciência, sempre descrita como sendo meramente um reflexo de uma convenção social arbitrária.
Cada uma dessas explicações pode ser defendida, dependendo de até onde no campo do ad hoc o defensor estiver disposto a ir. A questão válida aqui é o que provoca menos (ou mais fracas) objeções sérias e contundentes.
Eu concedo que a explicação mais elegante e lógica para um sentimento de culpa universal por ter violado uma lei não proposta pelo homem é um legislador que implanta a faculdade da consciência na natureza humana; mas isso não é possível a não ser que esse legislador tenha autoridade universal e, consequentemente, soberania universal, e tenha criado tanto o universo quanto o homem. O criador do universo é um Deus, e se ele é também a origem da lei, a lei deve ser divina e sua natureza incontestavelmente lícita.
A origem divina da lei não pode ser, ao mesmo tempo, a origem da ilegalidade. A natureza ilícita, portanto, pode somente ser o resultado de um defeito, de uma catástrofe capital e posterior à criação, corretamente chamada de “a queda”. Se o homem não tivesse caído, ele não estaria consciente, talvez nem mesmo fosse capaz de imaginar, a pureza e a retidão do que ele deixou para trás. Se o legislador propusesse leis que ninguém pudesse cumprir ou seguir, ele seria meramente um sádico, e por isso dificilmente uma fonte da lei com autoridade moral universal.
* * *
Isso leva à questão de se a religião é imprescindível para a moralidade pessoal.
Antes de respondê-la, deve ficar claro nos termos mais fortes que esta questão é de suma irrelevância para o cerne do debate.
Se Deus é real, então por definição ele merece toda a nossa adoração, gratidão e amor, independentemente de tal ação levar consigo um determinado código ético ou não, ou criar uma sociedade ordenada ou não. Você deve acreditar em verdades porque são verdadeiras, não porque são úteis. Você só julga mentiras em escalas de utilidade.
Eu noto de passagem que a questão contém uma ambiguidade intrínseca. Por que a moralidade pessoal? Por que não a moralidade da família, do clã, da tribo, da nação? Eu suspeito que a resposta seja muito óbvia. Os laços imponderáveis e místicos nos quais famílias, clãs, tribos e nações dependem para sua existência nunca existiram na ausência da religião.
Entretanto, a pergunta foi feita honestamente, e merece uma resposta:
A resposta é obviamente não, se estamos falando de algum código moral pessoal baseado no autointeresse.
Os homens buscam o autointeresse por natureza, e o homem racional também buscará o que está em seu interesse de longo prazo. Não está em seu autointeresse de longo prazo ter uma família na qual ele, como pai, ensina a enganar, trapacear, odiar ou mesmo destruir, tampouco ele desejaria viver em uma clã ou sociedade na qual falta o senso de honra, amor e dever cívico — na qual a fraude corrompe e a violência intimida.
Somente um sociopata é incapaz de ver a beleza da ação moral apropriada; somente um imbecil é incapaz de deduzir pelo simples uso do senso comum ou do bom senso que o padrão moral que se aplica a um indivíduo se aplica a todos, ou então não seria um padrão válido. Um indivíduo não precisa acreditar em nenhum Deus ou deuses para amar o bem, cultivar o bom senso, e ser leal ao seu autointeresse.
Mas um exame mais acurado do que é comumente chamado de código moral baseado no autointeresse mostra, quiçá surpreendente por mais que seja uma verdade óbvia, que tal coisa não é, de nenhuma maneira, um código moral. É um conjunto de regras para a produção de desculpas para violar o código moral, particularmente quando o código moral demanda de você um ato de autodesapego ou autossacrifício.
O autointeresse, não importa quão esclarecido, não pode nem explicar, nem desculpar um soldado que se joga na frente de uma granada para salvar seu batalhão, ou uma mãe que instrui o doutor a salvar o bebê, mesmo que para isso tenha que sacrificar a sua própria vida. E ainda assim, sem a lealdade dos soldados ou o autossacrifício do amor maternal, famílias e clãs não poderiam existir e a sociedade não poderia prosperar.
Somente se a vida após a morte for real o sacrifício da vida ou do tempo de um indivíduo será algo racional. Somente se existir um juiz que não pode nem enganar nem ser enganado, no portal que divide a vida carnal e a vida após a morte, seria racional temer ou obedecer às leis da consciência instigadas por tal juiz.
Muitos homens ultrajantemente maus morreram felizes na sua cama, não pagando por seus crimes, para a vida ser tolerável, ausente algum tipo de julgamento depois da morte. Se vivêssemos em um mundo no qual a vida é simples e irremediavelmente injusta, então teríamos pouco incentivo de nos apegar a vivê-la, porque o desejo por justiça, embora possa ser sufocado por níveis elevados de cinismo, não pode ser destruído.
Por esta razão, ausente o sobrenatural, a natureza humana não se encaixa na natureza geral, e isso inclui seu desejo ético, seu amor por tudo que é brilhante, justo e sagrado, seu desejo pelo pecado e autoindulgência, sua calma e persistente consciência, sua revolta contra a injustiça de ver homens maus prosperarem.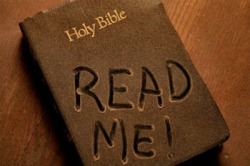
O ateísta não pode considerar a consciência como sobrenatural. Se ela for natural, é não deliberada, dado que todas as coisas naturais são não deliberadas; neste caso, ela [a consciência] não tem nenhuma autoridade moral sobre ele. É meramente um recurso natural, um objeto irracional a ser manipulado. Se for “feita pelo homem”, então o homem pode desfazê-la, portanto, obedecer ou desobedecer é uma decisão arbitrária. Dessa forma, o ateísta não tem justificação racional para se curvar à consciência, pois ela é irracional ou arbitrária.
Como todos os homens ficam apreensivos ao saberem de sua culpa, e como nenhum meio sobrenatural está disponível para afastar aquele sentimento, a única tática disponível ao ateísta é suprimir a consciência, isto é, redefinir a consciência como uma fonte de intolerância, e redefinir o pecado como uma fonte de autorrenovação e liberdade. Logo, na sociedade secular vemos um resultado inevitável: todo o julgamento moral é condenado como sentimental, e todo o dia uma nova perversão que ontem era impensável é adicionada à lista do que devemos amanhã tolerar, e no dia depois de amanhã, celebrar.
Aqui está o paradoxo da condição humana: o homem deseja a beleza da perfeição moral, embora saiba que não a encontrará nesta vida. Logo, existem apenas duas alternativas táticas possíveis para encarar tal paradoxo:
Uma é recorrer a um poder mais forte do que qualquer poder humano como ajuda nesta busca — que se consumará noutra vida — quando todo o pecado será perdoado; a outra é fugir do e/ou reprimir o desejo pela perfeição, tratando-o como uma ilusão perigosa, rendendo-se assim à natureza pecaminosa e afundando em pecado.
Essa rendição pode ser feita em nome da autenticidade, ou em nome da remoção de inibições e neuroses, ou em nome da civilidade ou pluralismo, ou em nome da liberdade e rebelião, ou em nome da tolerância e liberalidade, ou em nome da diversão e de não se passar por estraga-prazeres, ou em nome do Maravilhoso Mágico de Oz. O nome não importa, porque são somente desculpas. Eles não têm significado, já que são meramente uma espécie de morfina buscando aliviar e amortecer o nervo da moralidade.
A escolha é inflexível, binária e absoluta. Não existe uma terceira via. Por definição, o ateísta não pode nem mesmo admitir a possibilidade da primeira hipótese em sua visão de mundo.
Por essas razões, não importa o quão bacanas possam ser os ateístas, eles são bons somente até o ponto em que desconhecem ou renegam seu próprio código de ética e trabalham contra a única tática para lidar com o pecado que sua visão de mundo permite.
Ateísmo significa silenciar a moralidade.
Ateísmo significa intimidar a moralidade, e louvar, elogiar, aplaudir e recompensar o pecado, o desacordo, o egoísmo e a perversão.
Aqueles ateístas que se apegam por razões sentimentais à sua educação religiosa e mantém a moralidade, o autossacrifício, condenando o pecado e toda a forma de corrupção que rebaixa a alma sagrada do homem não têm razão racional dentro de sua visão de mundo para fazê-lo.
Mas com o sobrenatural, um código moral é possível no qual o autossacrifício é necessário para as famílias existirem e para a civilização prosperar, e isto não entra em contradição com a natureza e o autointeresse dos homens, porque o eu persiste além da vida.
No ateísmo, somente o código moral do autointeresse, isto é, um código moral sem autossacrifício, é justificado. Qualquer ateísta altruísta é uma criatura nobre, mas não pode dar uma explicação racional para suas ações.
Tampouco é um código irracional, um código que um indivíduo não possa justificar, capaz de servir como base para cultura, tradição, lei, isto é, um padrão pessoal de ética tão pessoal quanto comum — foi precisamente para evitar a menção deste ponto que a ambiguidade sobre “padrões pessoais” foi proposta da forma sorrateira que foi.
As únicas sociedades abertamente ateístas na história eram socialistas ou nacional-socialistas, geridas por Lenin, Hitler, Stalin, Mao e Pol Pot e outros monstros atrozes na história, e os padrões declarados dessas sociedades não eram éticos, mas pragmáticos, tratando humanos como objetos, e como vermes sujeitos ao extermínio em números astronômicos. A área total de valas comuns de vítimas inocentes do pragmatismo ético ateísta deveria silenciar qualquer discussão a este respeito.
Para efeitos de comparação, o socialismo foi responsável pela morte de aproximadamente 100 milhões de seres humanos neste século por meio de engenharia social proativa, além de 30 milhões de mortos em suas guerras de conquista. Mao matou 40 milhões de pessoas nos 26 anos de seu reinado, enquanto as vítimas das Cruzadas não ultrapassaram 1 milhão de pessoas entre 1096 d.C. a 1204 d.C. Mao alcançou o número de 1,5 milhão por ano, superando um século de Cruzadas em 500 mil vítimas. Novamente, a Inquisição Espanhola em 200 anos matou 350 mil. Em três meses, Mao superou aquele total.
Você pode adicionar as Guerras de Sucessão Espanhola ou as Perturbações na Irlanda, ou qualquer outra guerra que possa ter usado o Cristianismo como motivação. Mesmo assim, não existe comparação: o ateísmo é mais mortal que qualquer Cruzada ou Inquisição na história, mais mortal que todas elas juntas.
Um indivíduo pode falar teoricamente de culturas ateístas com códigos morais e leis ateístas que não são apavorantemente e grotescamente enganadoras, sádicas, satânicas e mórbidas, mas então, novamente, um indivíduo poderia falar teoricamente sobre virgens capturando unicórnios. Só porque uma virgem na história do mundo nunca capturou um unicórnio, isso não prova que unicórnios não existem, teoricamente falando.
Mas na medida em que estamos falando do mundo real — não teórico e sem unicórnios, a história mostrou e condenou a ética ateísta de forma clara como a maior ladra, enganadora, escravocrata, traidora e assassina na história.
Se um ateísta considera qualquer criança ou jovem deficiente mental como qualquer coisa além de outro animal do reino animal, ele não pode dar nenhuma explicação racional para sua conclusão. Um cristão pode provar com a lógica de seus princípios o que um ateísta moderado pode somente considerar como sentimentalismo de sua parte. Em uma visão de mundo na qual nada é sagrado, a vida humana não pode ser sagrada.
Novamente, isto não prova, ou mesmo importa que a religião tenha esse efeito colateral benéfico para as famílias e sociedades humanas, ademais do comportamento ético. Mas isso torna o ateísmo feio e inviável, assim como falso.
* * *
Sobre a moralidade natural e a amoralidade religiosa
Por Stephen Hicks
Tradução e Revisão de Matheus Pacini
Em minha opinião, as questões de moralidade são as mais difíceis da filosofia. Elas são intelectualmente desafiadoras — posto que tudo o que diz respeito à condição humana é relevante para elas — além disso, são emocionalmente fascinantes, já que nossos valores mais elevados estão sempre em jogo.
Deste modo, faz sentido que as filosofias religiosas frequentemente coloquem a moralidade no centro de seu apelo, e que diferenças de opinião sobre religião possam facilmente se tornar tensas e mesmo emocionalmente exaustivas.
A questão deste artigo é se a moralidade é natural ou se pode somente ser explicada por referência a um ser sobrenatural que estabelece regras morais e que as faz cumprir.
Cada um de nós como indivíduos decide quais são os seus valores fundamentais e como agiremos para alcançá-los. Ao selecionar o conteúdo de nossas crenças e nossos métodos de ação, nós quase sempre nos deparamos em algum momento com essa complexa questão: eu deveria escolher a minha moralidade de forma religiosa, isto é, (a) buscar comunicação direta com deuses ou Deus ou (b) aceitar um código moral de um sistema religioso estabelecido. Eu deveria escolher de forma natural, isto é, (c) seguir as normas prevalentes em minha sociedade ou (d) decidir independentemente o que eu julgo ser bom ou mau?
Dados de pesquisas na área de ciências sociais podem colaborar neste sentido. Nós podemos apontar diversos exemplos históricos de ateístas virtuosos e teístas imorais, e vice e versa, e podemos coletar tais dados, transformando-os em estatísticas úteis:
- Quem — teístas ou ateístas — com mais frequência acabam presos?
- As taxas de criminalidade são menores em nações mais seculares ou mais religiosas?
- Quem — teístas ou ateístas — têm maior probabilidade de serem psicologicamente deprimidos?
- Pessoas que têm uma vida mais feliz e produtiva tendem a ser mais naturalistas ou religiosas?
Algumas das estatísticas são sugestivas, mas ainda inconclusivas. Por ora, então, creio que seja melhor focar diretamente no debate filosófico. Aqui exponho a lógica do argumento:
- Humanos podem fazer escolhas;
- A realidade nos dá um padrão pelo qual podemos distinguir o bem do mal;
- Portanto, a moralidade é um fenômeno real.
Deterministas, sejam eles religiosos ou naturalistas, negarão a primeira premissa, mas nestes artigos nosso foco está no ponto 2: Em que lugar na realidade deveríamos procurar tal padrão?
A posição religiosa argumenta que:
- O naturalismo não pode explicar a moralidade.
- Portanto, nós devemos acreditar no supernaturalismo.
O ponto 4 é controverso, posto que entre os próprios naturalistas ocorrem debates intensos e existem diversas abordagens concorrentes. Eu concordo com o Sr. Wright que muitas dessas moralidades não religiosas são intelectualmente frágeis — tanto que ele atacou diretamente algumas das mais fracas. Contudo, ele não atacou nenhuma das mais fortes.
Eu também argumentarei em seguida sobre o ponto 5 — que, apesar da fraqueza da posição de algumas das moralidades naturalistas, a base de todas as moralidades religiosas é ainda mais frágil.
Um ponto preliminar sobre rótulos, já que o Sr. Wright fala de forma bem casual ao listar o ateísmo como uma das quatro possíveis explicações de moralidade. O ateísmo não é uma explicação em si, mas sim somente uma rejeição de um tipo de explicação — no caso, a teísta. Ser um ateísta é como ser um antifadas, antiduendes ou antihoróscopo: diz somente que um indivíduo não pode acreditar que fadas, duentes ou horóscopos expliquem alguma coisa.
No que tange ao que efetivamente explica a moralidade, muitas teorias naturalistas são concorrentes. O que necessitamos, de acordo com o ponto 2, é um fato sobre a realidade que venha a clarificar a distinção entre bem e mal. Com tal padrão ao qual recorrer, nós podemos então fazer julgamentos sobre todo o resto envolvido na vida humana.
- Uma abordagem naturalista destaca que os humanos são diferentes no poder de sua racionalidade, e que existe uma distinção fundamental entre viver racional e viver irracionalmente. Tal como a águia, a tâmia, o salmão e outras espécies têm um conjunto diferente de capacidades que deveriam exercer para viver de acordo com o tipo de seres que são, os seres humanos deveriam viver pela orientação de suas diferentes capacidades cognitivas. Aristotélicos e kantianos, por exemplo, seguem essa linha de argumentação.
- Outra abordagem naturalista baseia-se em um fato fundamentalmente diferente: a diferença entre vida e morte. Aquela distinção também pode distinguir o bem do mal — o bem é o que promove a vida, e o mal é o que leva à morte. Alimentos nutritivos, produtividade, e certos sistemas políticos são bons porque promovem a vida, enquanto venenos, preguiça, e outros tipos de sistemas políticos são maus porque solapam a vida. Os objetivistas seguem essa linha de argumentação.
- E existe a distinção entre prazer e dor. Hedonistas e utilitaristas tradicionalmente argumentarão que essa diferença natural fundamental fornece um padrão básico de moralidade: aquilo que maximiza o prazer é bom e aquilo que causa dor é ruim.
Meu ponto não é defender, mas destacar que cada uma delas tem poder explanatório: cada qual é baseada em fenômenos reais e observáveis, e cada qual oferece um padrão que pode ser usado para tomar decisões nas incontáveis questões da vida. Sua adequação é questão de investigação em curso.
Nós necessitamos, portanto, comparar a adequação destas três em oposição à moralidade religiosa de que “um deus assim disse”.
* * *
Muitos pontos podem ser feitos aqui, mas trabalharei com somente 4.
O primeiro é que se um indivíduo for basear a moralidade na religião, ele necessita escolher entre as muitas religiões e suas concorrentes mensagens morais. Aqui, interessantemente, a crença religiosa é frequentemente autobiográfica. Isto é, todas as religiões têm muitas mensagens e práticas — algumas pacíficas, outras violentas, e assim por diante — e os indivíduos escolhem entre elas para edificar uma religião pessoal que reflete a moralidade que eles já julgam ser mais ou menos boa.
Isto é, em meu julgamento, mais moralmente saudável que aqueles que aceitam um pacote religioso preexistente de crenças de forma não crítica. Por exemplo, as principais religiões ocidentais incorporam a Bíblia, e muito naquele texto é bárbaro: escrito por, e destinado para povos bárbaros.
Mais saudáveis são aqueles que analisam e, posteriormente, escolhem. O deísta Thomas Jefferson é famoso por literalmente cortar somente as passagens bíblicas que aprovava, colocando-as em um bloco de notas separado para sua referência pessoal. A maioria das pessoas faz o mesmo, de forma menos sistemática, e um indivíduo não precisa concordar com todas as suas passagens para que seja possível constatar que eles estão pensando por si próprios e que estão rejeitando muitas crenças e práticas imorais impostas por textos religiosos. Esse é um caminho honrado em direção ao desenvolvimento moral.
O ato de analisar e escolher, todavia, significa que a moralidade vem antes da religião. Um indivíduo já tem um padrão pessoal de moralidade, selecionando, posteriormente, a religião que ele independentemente julga ser a melhor.
Essa é precisamente a razão pela qual as religiões ortodoxas condenam a prática supracitada, e esse é meu segundo ponto. Toda a grande religião institucional no Ocidente e em grande parte do Oriente incita — às vezes por meio de ameaças, por exemplo, de ir para o inferno — que um indivíduo aceite um pacote pronto escolhido pelos outros. Em minha visão, essa é uma profunda imoralidade cognitiva. A moralidade diz respeito a fazer escolhas com base em um julgamento independente, e qualquer sistema de crenças que enfraquece tal responsabilidade fundamental é imoral.
O exemplo-chave que aqui exemplifica tal reflexão é a história da disposição de Abraão sacrificar seu filho Isaque. Todas as principais versões do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo defendem Abraão como um herói moral por ter passado o severo teste de Deus. Ainda assim, Abraão está sendo glorificado pela sua disposição a sacrificar um menino inocente, sem saber o porquê, ato que causaria um sofrimento imenso a ele e a sua esposa, unicamente por ter sido ordenado a fazê-lo, transferindo toda a responsabilidade para Deus. Isso é uma fé obediente — e que é profundamente imoral.
Somente quando uma religião institucional rejeitar explicitamente a lição de Abraão é que poderá ser considerada minimamente reformada na direção da moralidade humana. Somente então poderemos discutir sua credibilidade no que tange a outras questões morais.
Meu terceiro ponto: às vezes, em resposta ao supracitado, os teístas fazem uma pergunta hipotética: mas e se realmente existe um Deus e você estivesse no lugar de Abraão? Sr. Wright responde a questão desta forma: Se Deus é real, então por definição ele merece toda a nossa adoração, gratidão e amor”.
Isso serve para encobrir um ponto profundamente problemático que diz respeito às fundações da moralidade religiosa. Suponha, pelo bem da discussão, de que existe um Deus. Suponha que ele se revele a você diretamente, mostrando que é imensamente poderoso e inteligente. Você pede a ele que erga um transatlântico e o coloque de volta na água, o que ele faz corretamente. Você lhe pede a resolução de algumas questões matemáticas muito difíceis e ele as responde tranquila e corretamente. Ele então diz: “agora que eu demonstrei grande poder e inteligência, você deve fazer o que eu disser”.
Mas, por que isso faz sentido? Não necessariamente o que o deus está pedindo que você faça é moral. O deus poderia ser muito poderoso e inteligente — e mau. Então, se você está disposto a basear sua moralidade nos dizeres de um deus, você precisa primeiro se assegurar de que este deus é moral.
Como você conseguiria isso? As moralidades religiosas nos dizem que nós, humanos, somos desconhecedores da moralidade até que um deus nos diga o que moralidade significa. Mas se desconhecemos o significado de moralidade, então não estamos em posição de julgar se o que deus está nos dizendo é bom ou mau. Por outro lado, se formos capazes de julgar por nós mesmos se os dizeres de deus são bons ou maus, então já devemos saber a diferença entre bondade e maldade — o que significa que não precisamos de um deus para nos dizer qual é a definição de moralidade. (Para mais sobre este problema clássico da ética religiosa, ver teoria do comando divino).
Meu quarto e último ponto é o seguinte: infelizmente, a moralidade religiosa é, com muita frequência, verdadeiramente baseada em profundo pessimismo e, muitas vezes, um cinismo profundo sobre o mundo natural.
A religião do Sr. Wright é um exemplo claro disso. Ateste a sua visão sombria do mundo natural: “Aqui está o paradoxo da condição humana: o homem deseja a beleza da perfeição moral, embora saiba que não a encontrará nesta vida”. Por que não? Ninguém nunca é honesto, justo, responsável, perseverante ou comprometido com a integridade?
Ou seria que tal bondade é muito infrequente e frágil em face à depravação? Isso parece mais próximo da verdadeira posição do Sr. Wright — note sua leve confissão: “Ninguém me pediu, mas, se eu pudesse escolher, eu preferiria muito mais que tivesse sido Odin o Deus Supremo, de modo que eu pudesse estuprar e saquear de coração alegre”.
Aqui temos um homem dizendo que preferiria prejudicar e destruir outras pessoas em vez de criar ou cooperar com elas. Mas ele age moralmente — não porque assim deseja — mas porque foi ordenado a fazê-lo. Já que ele assume tacitamente que todas as outras pessoas são tão depravadas quanto ele, ele procede a caluniá-las diretamente.
Eu concordo totalmente com o Sr. Wright de que tal aversão e cinismo sobre a natureza humana frequentemente é a base da religião. (Notar: eu não alego que todos os defensores da religião enquadram-se nesta categoria).
E eu percebo uma conexão aqui entre o Sr. Wright, teísta e pessimista, e Sigmund Freud, um dos maiores pessimistas da história e um ateísta. Em seu A Civilização e seus Descontentes, Freud argumentou que a religião era uma ilusão infantil que era difícil de se levar a sério — mas que dada a irracionalidade animal da natureza humana, algum tipo de crença religiosa geral era essencial. Assim como o Sr. Wright parece precisar acreditar em um Deus para mantê-lo na linha, o Dr. Freud desejava que a maioria das pessoas acreditasse, de forma que o temor a Deus os manteria na linha.
O que esse ponto final sugere é que muito do debate sobre moralidade entre religião e naturalismo foca em uma análise acurada da natureza humana. Nossos próximos artigos na série tratam diretamente de tais questões da natureza humana e suas implicações quanto ao sentido da vida.
(Um ponto complementar final sobre a moralidade e o método intelectual: se um indivíduo clama que houve um problema em alguma citação, é importante mostrar a citação errônea de forma que os leitores possam ver por si mesmos. Isto não é somente uma cortesia profissional, mas sim uma questão de arte intelectual. Em meus artigos anteriores, eu citei regularmente as palavras do Sr. Wright, mencionando os links para que ficasse clara a fonte. Tomo como relevador, todavia, que o Sr. Wright muito acusa, mas não cita. Por exemplo, o Sr. Wright está revoltado (5º parágrafo) com o meu uso de Tertuliano, pois eu distingui a interpretação de fé de Wright daquela de Tertuliano (3º parágrafo), e ao fazê-lo utilizei esta citação de Tertuliano. Ao usar os links, os leitores podem julgar por si mesmos se eu fui (a) correto ou (b) “injusto” “covarde,” “ignorante” — ou se o Sr. Wright (c) precisa ser mais cuidadoso e/ou (d) está substituindo argumentos por intimidação retórica.
* * *
Stephen Hicks é o autor do livro Explicando o Pós Modernismo e Nietzsche and the Nazis. Ele escreve regularmente no site StephenHicks.org. Sinta-se à vontade para enviar suas questões filosóficas ou dilemas morais para professorhicks@everyjoe.com.
Artigo original: On Natural Morality and Religious Amoralism. Visite Publicações em Português para ler os últimos artigos de Stephen Hicks e de religião em Português. Português Religion Series – Part 4 PDF.

